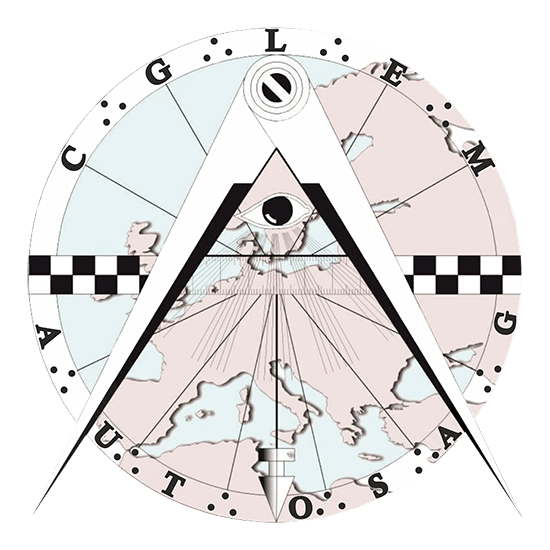Caro leitor na forma adequada de saudação!
Era uma vez um rei cujo único interesse na vida era vestir-se com roupas da moda. Estava sempre a mudar de roupa para que as pessoas o pudessem admirar. Uma vez, dois ladrões decidiram dar-lhe uma lição. Disseram ao rei que eram óptimos alfaiates e que podiam fazer-lhe um belo fato novo. Seria tão leve e fino que pareceria invisível. Só os estúpidos é que não o conseguiam ver. O rei ficou muito entusiasmado e ordenou aos novos alfaiates que começassem a trabalhar.
Assim começa uma das fábulas mais peculiares e alegóricas de Hans Christian Andersen. Lembra-se da continuação?
Um dia, o rei pediu ao primeiro-ministro para ir ver o trabalho que os dois alfaiates tinham feito. Viu os dois homens a moverem tesouras no ar, mas não viu nenhum tecido! Calou-se com medo de ser chamado de estúpido e ignorante. Em vez disso, elogiou o tecido e disse que era maravilhoso. Finalmente, o vestido novo do rei estava pronto. Não conseguia ver nada, mas também ele não queria parecer estúpido. Admirou o vestido e agradeceu aos alfaiates. Foi-lhe pedido que desfilasse pela rua para que todos vissem as roupas novas. O rei desfilou pela rua principal. O povo só podia ver um rei nu, mas ninguém o admitia por medo de ser considerado estúpido. Louvaram insensatamente o tecido invisível e as cores. O rei ficou muito contente. Por fim, uma criança gritou: “O rei está nu!”. Em breve, todos começaram a murmurar a mesma coisa e, muito rapidamente, todos gritaram: “O rei não está a usar nada!”
O tema de estudo proposto pela Confederação das Grandes Lojas da Europa e do Mediterrâneo envolve muitos aspectos das dinâmicas relacionais entre os povos do chamado bloco ocidental, por um lado, e os da zona islâmica árabe-africana, por outro, sendo o Mediterrâneo uma encruzilhada e uma pedra angular onde essas dinâmicas se concretizam. É claro que estas relações acarretam problemas complexos e diferenciados, desde a emigração em massa à guerra e à pobreza que a gera; desde a tentativa de alguns povos islâmicos de se emanciparem de governos teocráticos, à oposição levada a cabo pelos fundamentalistas religiosos; desde o nascimento do Estado Islâmico do Isis e os ataques terroristas em locais que são símbolos do bem-estar ocidental, às respostas dos governos europeus que põem em evidência todas as divisões internas e a diferença de visão do que se define como uma União de Estados. No entanto, todos estes temas têm um substrato comum que tem muitas semelhanças com o conto de Anderson, porque a maioria das pessoas prefere uma abordagem baseada numa realidade conveniente à qual obedece e na qual acredita, em vez de investigar e lidar com o que a razão e a honestidade intelectual nos mostrariam como verdadeiro. Veremos como o nosso principal inimigo é representado pela ignorância e pela hipocrisia, pelo manto de respeitabilidade com que a chamada opinião pública cobre as suas posições, defendendo-as até ao fim, mesmo perante provas contrárias. Temos a obrigação de as desmascarar, não só em nome da verdade, mas sobretudo porque estamos conscientes de que é impossível lançar as bases de uma solução eficaz para este problema se elas não forem tratadas na sua verdadeira natureza e substância.
Hoje tentaremos seguir essa via, conscientes, no entanto, de que, nestas circunstâncias, não podemos deixar de fazer generalizações e de omitir outros elementos de igual valor e importância relativamente a este tema. No entanto, o nosso objetivo não é ser exaustivo e conclusivo, mas sim suscitar dúvidas e dar que pensar. Pensar em ter uma visão completa e definitiva sobre tantas situações complexas e interligadas é impossível. É impossível pensar em fazer juízos definitivos e inequívocos, sem ser apanhado pelas emoções induzidas pelos acontecimentos mais dramáticos, sejam eles sentimentos de pena pela tragédia dos migrantes ou de raiva pelos ataques terroristas. É também impossível não suscitar uma crítica ainda mais feroz, seja qual for o argumento invocado. Afinal, o que cada um pode perceber da realidade é a sua própria perspetiva, um ponto de vista que, partindo de certos pressupostos, analisa os factos e forma uma opinião. Mas não deixam de ser perspectivas ou, para continuar com a nossa metáfora, roupas com as quais escolhemos revestir a realidade, tentando convencer os outros (e a nós próprios) de que são as mais belas possíveis, sem nos apercebermos de como podem parecer invisíveis para os outros. Assim, temos aqueles que desfilam com a indumentária da bondade, da compaixão, da solidariedade e da hospitalidade, sempre e em qualquer circunstância, e aqueles que usam o manto da intolerância, do racismo, do nacionalismo e da xenofobia. Para além destas perspectivas, destas atitudes, destes revestimentos, como maçons devemos ter a força e a capacidade de expor a nudez do rei, de apresentar e abordar os problemas do nosso tempo pelo que eles realmente são, propondo acções e soluções possíveis que não visem outro interesse que não o bem da humanidade. Não o bem de nações individuais, de estados individuais, do nosso próprio grupo social, classe, vantagem pessoal; a ação deve ser tomada não favorecendo os nossos próprios medos ou desejos, mas perseguindo o bem da humanidade. A primeira coisa a fazer é abandonar todas as formas de preconceito e de parcialidade, convencermo-nos de que um assassino é tal independentemente da sua nacionalidade ou da sua religião, que um ladrão é tal onde quer que roube, que um faminto ou um necessitado merece a mesma solidariedade independentemente da cor da sua pele, porque somos todos filhos da descendência humana. Como maçons, não podemos nem devemos negar-nos a nossa responsabilidade na busca da verdade, conscientes de que é nosso dever investigar a realidade por detrás das aparências, para além dos clichés, para além do conformismo e do moralismo de qualquer tipo.
Começaremos pela questão mais importante do substrato do nosso tema, que é o pivot sobre o qual todas as outras questões parecem girar, ou seja, a questão religiosa, porque não podemos negar a importância que a religião desempenha na caraterização da identidade dos povos muçulmanos, sobretudo, bem como nas suas relações com os países ocidentais. O Islão, de facto, não é visto simplesmente como uma expressão de uma esfera religiosa individual, como o cristianismo atual é para os ocidentais, mas permeia total e completamente todos os aspectos da vida pessoal, social, jurídica e económica dos muçulmanos. Não há nenhuma situação que não seja regulada pelo Alcorão ou pela Sunnah, que é a coleção de anedotas do que o Profeta disse ou fez. Antes mesmo da teologia, o Islão é uma lei e um sistema jurídico ao qual o indivíduo se deve submeter, e Shari’a (“lei”) é o termo que mais do que qualquer outro caracteriza a sua essência.
Embora sejam muito diferentes, uma vez que todos estão conscientes de que o aspeto religioso foi e continua a ser o principal fator que dificulta o diálogo entre os povos, muitos tentaram encontrar elementos que possam comparar a religião de Maomé com as outras duas grandes religiões da zona mediterrânica, a judaica e a cristã, na esperança de que, apoiando-se nesses elementos, se possa desvanecer a contínua ligação às diferenças religiosas para justificar qualquer forma de conflito. Com isto em mente, foi iniciado um processo de diálogo inter-religioso em busca de fundamentos teológicos para apoiar possíveis pontos de contacto. Em particular, foi salientado o facto de todas elas serem religiões monoteístas, de partilharem um patriarca comum, Abraão, e de as três se basearem na revelação de Deus registada num livro sagrado, razão pela qual são também chamadas “religiões do Livro”. Mas, numa análise mais aprofundada, nenhum destes elementos pode ser verdadeiramente definido como comum às três religiões; ou melhor, nenhum destes elementos é interpretado da mesma forma ou com o mesmo significado.
A afinidade atribuível à linhagem comum abraâmica não vai, de facto, além da figura do próprio Abraão, e as diferenças emergem claramente desde os seus descendentes imediatos. Na Bíblia, encontramos que a aliança entre YHWH e o patriarca, baseada na promessa de Deus de lhe conceder muitos descendentes, através dos quais todos os povos da terra seriam abençoados, se realiza com o nascimento de Isaac e, através dele, chega até Jesus Cristo, através do qual se cumpre a aliança entre o homem e Deus Pai. No Alcorão, Abraão é o primeiro dos profetas, o “amigo de Deus” cuja linhagem é continuada pelo filho primogénito Ismael, gerada com a escrava egípcia Agar, e cumprida com Maomé, Selo dos Profetas e último mensageiro da vontade de Deus. Abraão e Ismael, inspirados por Deus, fundam a cidade santa de Meca e constroem a Ka’ba, o lugar mais sagrado do Islão. No Alcorão encontram-se algumas das figuras bíblicas, incluindo Jesus, mas todas com uma conotação muito diferente da tradição judaico-cristã. O Islão afirma ter a interpretação correcta, sendo o último na ordem cronológica a receber, através de Maomé, a revelação divina. As diferenças seriam então atribuídas a mal-entendidos e erros cometidos por judeus e cristãos na interpretação da vontade divina.
Também a alegada ligação baseada no monoteísmo deve ser avaliada à luz destas considerações: não basta apoiar a existência de um Deus para ser chamado de convergente, é necessário examinar a natureza desse Deus e, no caso do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, essa natureza divina é muito diferente. Por um lado, temos o Deus libertador dos judeus, o Deus juiz e legislador que escolheu estar ligado ao seu próprio povo, oferecendo-se a si próprio através da incarnação e crucificação do Filho e do dom do Espírito, pedras angulares teológicas do cristianismo. Por outro lado, o Deus do Islão, absolutamente transcendente, arbitrário, imprevisível e incognoscível, para o qual nunca poderá haver qualquer possibilidade de “encontro” entre Ele e os homens, mesmo para os justos após a morte. Além disso, o Islão não considera o cristianismo verdadeiramente monoteísta, mas “triteísta”, devido à dificuldade em compreender a natureza do dogma trinitário.
Falemos finalmente do “Livro”, que é a possível afinidade das três religiões pelo facto de se basearem na revelação contida no livro sagrado. Estamos, de facto, a enfrentar talvez a diferença mais incompatível. Não basta que cada religião se baseie no que é revelado pela divindade e que essa revelação tenha sido registada num texto, se o que foi revelado e as formas como essas revelações foram pregadas diferem consideravelmente umas das outras. A Bíblia é um texto inspirado, não ditado, por Deus, e formou-se ao longo de mais de 10 séculos com várias camadas e revisões subsequentes, com as quais muitos escritores interpretaram o pensamento divino transmitindo-o de muitas maneiras e não sem algumas contradições. O Alcorão foi, pelo contrário, escrito num período de tempo relativamente curto, nos anos imediatamente a seguir à morte de Maomé, e relata apenas o que Alá revelou ao Profeta, sem comentários ou interpretações do seu profeta. Mas é sobretudo na própria ideia de Deus e da sua relação com a humanidade que se manifestam as maiores diferenças. A Bíblia é basicamente uma série de histórias, sobre o desenrolar e a evolução da relação de Deus com os homens, das intervenções de Deus na história humana, de forma a determinar o seu desenvolvimento, até chegarmos à própria encarnação da Palavra divina num homem. Deus revela-se e faz-se homem entre os homens, toma sobre si o seu destino para redimir a sua existência. Há um intercâmbio contínuo entre Deus e as suas criaturas, até ao advento de Cristo, que é o cumprimento da Revelação e o início de uma nova era para a humanidade. No Islão não existe qualquer forma de participação de Alá na vida dos homens, Ele continua a ser uma entidade absolutamente transcendente e arbitrária, incognoscível e incompreensível, à qual os homens só podem obedecer esperando a sua misericórdia. O Alcorão é em si mesmo a revelação de Deus, por isso os sunitas dizem que é incriado e guardado entre o próprio Alá, considerando-o imutável e não sujeito a mudanças e/ou interpretações ao longo do tempo. O Deus cristão, imerso na história dos homens, faz-se participante do sofrimento humano para os redimir, e a sua ação na história serve para emancipar os homens do sofrimento. O Deus do Islão, ausente e transcendente, é insensível ao sofrimento dos seres humanos, de tal modo que a própria humanidade parece, por vezes, ficar insensível ao seu próprio sofrimento (e ao dos outros). Um Deus que não actua na história não cria história, no sentido de luta pelo progresso e pela emancipação. O mundo islâmico parece suspenso entre um passado que já não existe e um futuro que nunca existirá, privando assim o tempo presente de qualquer sentido, exceto o de se perpetuar num abandono fatalista à vontade de Deus.
Todos os argumentos apresentados para possíveis convergências provaram ser enganadores e ilusórios. Não passam de roupas feitas de um tecido frágil, e só a nossa obstinação em procurar a todo o custo compromissos, semelhanças, relações onde elas não existem, nos leva a considerá-las reais. Em vez disso, temos de registar que o rei está nu!
Não é necessário forçar um acordo com base em elementos frágeis. O diálogo inter-religioso deve basear-se em elementos alheios à teologia e à interpretação das Escrituras, referindo-se explicitamente ao direito natural de cada homem de ver respeitada a sua essência.
Só um contexto laico o pode garantir, onde entendemos o laicismo em vez do laicismo, ou seja, a sua degeneração na rejeição de todas as formas de religião como única garantia de uma coexistência pacífica, mas entendemo-lo antes como o único quadro que pode e deve garantir a todos a livre expressão das suas crenças religiosas.
Não se trata de uma forma de negação, mas antes de uma aceitação por parte de todos, pelo que a liberdade oferecida a qualquer pessoa para exprimir livremente as suas crenças religiosas sem receio de ser julgada ou, pior ainda, repudiada pelos outros, deverá garantir a eliminação de qualquer possível fricção.
A pluralidade religiosa deve ser considerada uma riqueza, dadas as múltiplas perspectivas do Divino proporcionadas, e um Estado laico deve ser o ambiente natural em que essas perspectivas podem ser exploradas por escolha, permitindo a adesão efectiva à dimensão metafísica ditada pela convicção íntima e não pela tradição ou cultura ou pela lei do Estado.
Este processo já se verificou em grande parte no mundo ocidental, sobretudo a partir do Iluminismo, que impôs o uso da razão e da boa vontade como ferramentas para compreender a existência e o ser.
Desde então, verificou-se uma evolução contínua em todos os domínios do conhecimento humano, e a clara supremacia obtida nas esferas tecnológica e económica fez com que o modelo ocidental ganhasse vantagem e fosse difundido por toda a parte.
Houve um período em que esse domínio se traduziu também numa verdadeira ocupação territorial dos países mais atrasados.
Hoje em dia, pelo menos formalmente, quase todos os países estão organizados em Estados independentes, livres da interferência política e militar de outros; mas a economia mundial, que entretanto se tornou uma economia puramente financeira, continua a ser gerida por um grupo muito pequeno de países. Mesmo a última revolução tecnológica, a que está ligada às formas de comunicação e de controlo da informação, através da Internet e das redes sociais, tornou-se um meio global através do qual todos os valores ou pseudo-valores do Ocidente foram renovados em todo o mundo.
Em consequência de tudo isto, a fé de nós, ocidentais, alterou-se profundamente.
Talvez hoje possamos ver-nos mais como filhos do Iluminismo do que do Cristianismo, mas isso não significa que o progresso científico tenha cancelado o sentimento religioso das pessoas, antes pelo contrário, purificou-se gradualmente dos elementos supersticiosos, deslocando o foco dos efeitos para as causas. O Ocidente está a aperceber-se da nudez do rei, despertando assim, pouco a pouco, as consciências individuais para o advento de um novo espírito religioso, de dimensão mais humana, não porque nos afastemos de Deus, mas porque a Sua presença é agora sentida e vivida basicamente como experiência íntima interior.
A este respeito, não há dúvida de que o Islão tem ainda um longo caminho a percorrer e muitos problemas a resolver.
A conquista do secularismo é, pois, um grande desafio para os povos muçulmanos, divididos entre a convicção de seguir a religião única e perfeita, de querer manter intactos os costumes e a lei islâmica, por um lado, e o desejo de disponibilizar os benefícios materiais ligados ao modelo de vida ocidental, por outro, dando assim origem a profundas contradições e fortes tensões que provocam conflitos no seu interior mas também no exterior.
Pergunto-me até quando as classes altas árabes, aquelas que detêm as alavancas económicas e políticas dos seus respectivos países, continuarão a fingir vestir o traje da perfeita conformidade com as tradições do Islão e, ao mesmo tempo, a usufruir de todos os benefícios materiais que o modelo ocidental de desenvolvimento produziu. Do meu ponto de vista, já são muitas as vozes que gritam que o rei está nu, porque é precisamente nesta chave que penso que devemos interpretar o movimento conhecido como primavera Árabe: a tentativa de retirar a política, a economia e as relações sociais da interferência da esfera religiosa, que vê como um perigo e um inimigo qualquer desvio da Sharia.
Sabemos que a tentativa não foi bem sucedida, mas entretanto as vozes levantaram-se, e eram as das gerações mais jovens, mais sensíveis e prontas a receber novas instâncias. Os Estados islâmicos reprimem toda a dissidência, mas a história ensina-nos que impedir o diálogo interno, considerando-o uma ameaça em vez de um trunfo, é um índice de decadência, uma admissão implícita de fraqueza que, a longo prazo, só pode conduzir a uma renovação das instituições.
Creio que a parte ocidental pode contribuir para o processo, não condenando e estigmatizando sistematicamente populações inteiras pelo seu modo de vida por ser diferente do nosso, mas estimulando a reflexão dos seus próprios jovens sobre a manutenção ou a superação de modelos sociais e políticos ultrapassados, sem que isso implique comprometer a sua fé religiosa. Haverá dificuldades e resistências por parte dos guardiães mais reaccionários e fundamentalistas da ortodoxia, mas quanto aos esforços do Islão para manter a evolução histórica fora do seu âmbito, não podem deixar de acontecer, mais cedo ou mais tarde.
Perante esta pressão, os defensores da resistência não hesitam em levantar o espetro da jiha’d, ou guerra santa, como a principal ameaça ao mundo ocidental, cada vez mais intrusivo e desrespeitador das tradições do mundo árabe. De facto, é dever de todo o bom muçulmano combater os infiéis para os converter à verdadeira religião, ou perecer no seu erro. Mas a ameaça da guerra santa é o bicho-papão ainda mais invocado pelos activistas ocidentais, como principal argumento para justificar a necessidade de uma estratégia defensiva e a rejeição de todas as formas de cooperação com o mundo islâmico, cujo único objetivo parece ser destruir quem não é muçulmano.
Ora, para além do facto de, mesmo entre judeus e cristãos, não faltarem os fundamentalistas mal dispostos a aceitar qualquer expressão de crenças diferentes das suas, está fora de questão que esteja em curso um recrudescimento do terrorismo islâmico.
Apesar da mais veemente condenação de todas as formas de violência, quaisquer que sejam as suas matrizes e motivos, dificilmente posso imputar a mil milhões de muçulmanos a vontade unânime e inequívoca de matar pessoas inocentes só porque professam uma fé diferente. Estou muito mais inclinado a acreditar que o jiha’d é mais um vestido com quem tanto para um lado como para o outro, serve para vestir as acções terroristas que causam derramamento de sangue agora não só no Ocidente. Mais uma vez, devemos ter a força de gritar que o rei está nu e que o terrorismo não pode ser simplesmente descartado como uma ação de extremistas islâmicos que pretendem punir o Ocidente blasfemo e infiel. Tem raízes complexas, que se encontram nos pântanos dos assuntos económicos e financeiros, nos interesses relacionados com o controlo das regiões estrategicamente mais importantes do mundo para a exploração dos recursos naturais. Da Al-Qaeda ao Estado Islâmico do Isis, sinto-me mais inclinado a considerar o forte fundamentalismo religioso que os caracteriza como uma força coesa, o sentimento comum em que se basearam para reunir sob uma mesma bandeira o consentimento de pessoas movidas por motivações heterogéneas de vingança contra a interferência ocidental no mundo muçulmano. O Isis, em particular, proclamou-se como um Estado soberano, com a intenção declarada de unir o mundo muçulmano sob o seu governo para restaurar a supremacia e o poder que o Islão detinha na era longínqua dos xeques, dando a todos os muçulmanos desejosos de reafirmar a sua identidade, uma oportunidade de redenção que afecta os interesses do imperialismo ocidental; com que métodos e que consequências é óbvio para todos.
O filósofo e médico muçulmano Ibn-Sina, um dos mais conhecidos da antiguidade, conhecido pelo seu nome latino de Avicena, dizia que no tratamento das doenças perniciosas, era de facto necessário tratar antes de os sintomas se manifestarem, devido aos seus efeitos debilitantes sobre o organismo, mas era necessário passar depois à identificação e eliminação das causas da doença, a fim de evitar que esta pudesse voltar a apresentar os mesmos sintomas negativos. O Ocidente está agora empenhado numa dura batalha para eliminar a ameaça Isis, mas isso não será suficiente na medida em que acreditamos que ela é apenas um sintoma de um mal-estar mais geral que afecta aquela parte do mundo. Uma vez erradicada a ameaça contingente, será necessário atacar as causas, se não quisermos correr o risco de que ela se repita sob outra forma, mas com os mesmos efeitos devastadores. Ao mal pode-se reagir isolando-o, tornando-o estéril, sem outras consequências que possam ampliar o efeito inicial já prejudicial. É preciso isolar o Isis subtraindo-lhe a fonte de subsistência, o apoio de que goza entre as populações pobres e facilmente influenciáveis pela propaganda anti-ocidental, eliminando assim as razões desse apoio; por outras palavras, é preciso agir para mudar as condições de vida das populações ainda deixadas à margem do desenvolvimento. Ao longo da história sempre prevaleceu a dominação de poucos sobre muitos, as guerras e conquistas tinham como objetivo submeter as populações mais vulneráveis a fim de explorar os seus bens territoriais. Mesmo após a Segunda Guerra Mundial e o fim dos regimes coloniais, as coisas não mudaram substancialmente: a ocupação militar foi substituída, como já foi referido, por uma supremacia de tipo económico-financeiro, que vê 50% da riqueza mundial controlada por menos de 100 empresas multinacionais. As rédeas do poder político dependem das rédeas do poder financeiro, que, em conjunto, visam manter inalteradas as estruturas sociais e económicas, apresentando-as como as mais adequadas para assegurar o nosso bem-estar, mesmo que seja a causa dos desequilíbrios que deixam na pobreza uma grande parte do mundo. Assim sendo, e tendo em conta as reacções que estão a surgir, será que podemos continuar a dizer que o modelo económico que prevalece hoje será capaz de garantir o nosso bem-estar no futuro?
Mais uma vez, devemos ter a força de dizer que o rei está nu!
Penso que a única abordagem construtiva a adotar é perguntarmo-nos que política e que modelo de desenvolvimento garantirão melhor o nosso bem-estar e o dos outros no futuro, para além do interesse atual dos sujeitos individuais envolvidos.
Apoiar tal tese não significa ceder ao idealismo, não é uma conspiração fácil, mas é puro pragmatismo, que ultrapassa o mero problema relacionado com a derrota do Isis e do terrorismo internacional. A população mundial vai atingir cerca de 9 mil milhões de pessoas, a maioria das quais se concentrará nos países asiáticos e africanos, principalmente de fé islâmica. Poderemos suportar a pressão das suas legítimas expectativas, pagando o preço das inevitáveis tensões que o crescimento da desigualdade necessariamente trará consigo?
Penso que o nosso bem-estar futuro não pode ser pensado contra o resto do mundo, mas em conjunto com ele. A palavra de ordem deve ser “partilha” e não mais “apropriação”!
Devemos basear-nos num princípio de justiça que tenha em conta as necessidades de todo o planeta e assegurar que este princípio possa ser partilhado por todos os povos que o habitam. Para tal, é necessário avaliar o problema como um todo, é necessário repensar o acesso aos recursos produtivos e à riqueza mundial. Em tempos de globalização da economia e da informação, já não é concebível manter a grande maioria da população à margem do bem-estar, já não é sustentável que alguns países possam consumir 90% dos recursos e esperar que os outros se mantenham calmos e observem, sem consequências de qualquer tipo. Seremos capazes de desenvolver um novo paradigma socioeconómico que substitua o controlo e a exploração da riqueza por uns poucos pela solidariedade e a cooperação, sem que haja o choque de civilizações que muitos já temem? Fazer com que a prosperidade se generalize, devolver aos povos o controlo dos seus próprios recursos é a melhor forma de garantir o futuro da humanidade e, por conseguinte, o nosso.
É uma visão que só estadistas genuínos e com visão de futuro poderão ter a capacidade de levar por diante, também nos organismos internacionais já existentes. Mas, na arena política internacional, assistimos antes à prevalência de interesses míopes, que visam maximizar os resultados a curto prazo dos Estados individualmente representados, quer por razões eleitorais, quer por razões pessoais.
Entretanto, as consequências desta miopia são visíveis para todos e estão a gerar um drama com poucos precedentes, exacerbado pelas reacções induzidas nos países europeus, absolutamente desprovidos dessa clarividência que acabámos de defender: refiro-me, naturalmente, ao êxodo dramático para a Europa.
Uma parte deste fluxo depende de situações contingentes, como a guerra em curso na Síria e nos territórios ocupados pelo ISIS, que esperamos que termine com a cessação das hostilidades. Mas a maioria dos migrantes deixa os seus países principalmente devido à pobreza e à falta de perspectivas. Entre os muitos desafios que coloca, existe também a preocupação generalizada de que a imigração em massa conduza à desintegração do tecido social e dos valores éticos e morais que até agora caracterizaram os países europeus, causando eventualmente o declínio e o potencial desaparecimento da sua própria cultura. Há quem diga que um fluxo migratório descontrolado pode conduzir a um verdadeiro genocídio nos países de destino, como o que ocorreu nas Américas relativamente aos povos pré-colombianos e aos índios americanos, justificando assim as várias barreiras físicas, jurídicas e psicológicas erguidas para bloquear esse fluxo. Mas talvez a miopia do mundo ocidental seja, por si só, a causa dos seus próprios problemas.
Os mesmos avanços tecnológicos que estão na base do nosso bem-estar, através da difusão mundial dos meios de comunicação social, da Internet e das redes sociais, mostraram em toda a sua brutalidade o enorme fosso entre o “norte e o sul” do mundo, tornando as sociedades mais pobres conscientes da sua situação real e criando um desejo legítimo de a melhorar. Podemos condenar a aspiração a uma vida melhor? E onde é que ela pode ser cultivada senão nos países que mostram imagens de uma sociedade rica e feliz? A nossa cultura e o nosso bem-estar não estão em risco por causa dos migrantes, mas sim porque pusemos em risco a nossa identidade, renunciando à justiça, à compreensão de que o património a salvaguardar é o de toda a humanidade e não apenas a nossa própria prosperidade.
O êxodo deve ser travado não por causa dos problemas que possa causar à nossa sociedade, mas porque o acontecimento em si é inerentemente desumano, porque são essas as razões que o provocam.
Uma mudança de perspetiva desta magnitude não se esgota numa geração: passa pela educação da humanidade, para recuperar a consciência da verdadeira dimensão humana e o significado da presença deste plano. O que eu desejo é uma humanidade em viagem, em evolução, que pode e deve viver as transformações não como sinais de declínio ou de abandono das suas identidades, mas sim como uma vontade clara de se adaptar ao que é melhor para as necessidades reais de todos os indivíduos, definidas com base nos direitos naturais da própria existência, de fazer parte de uma ordem cósmica que devemos preservar e proteger. A realidade não é objetiva, imutável, independente da nossa vontade. Trabalhando sobre as consciências individuais e depois sobre a vontade subsequente, podemos mudar a realidade. Isto exige uma verdadeira revolução do processo mental. De facto, as pessoas normalmente julgam e relacionam-se com os outros com base nos seus padrões de pensamento, hábitos, tradições e leis, numa palavra, com base na sua cultura, que se foi formando e estratificando ao longo de muitos anos. O encontro com o novo, com o desconhecido, gera tensões, medos e dúvidas, aos quais a maioria das pessoas reage isolando-se e invocando o regresso ao passado, tentando de todas as formas afastar o problema, recusando-se a enfrentá-lo, a procurar as causas dos fracassos e a explorar possíveis soluções; e, em nome da segurança e da tranquilidade, estão dispostas a abdicar de alguma da sua liberdade (tão duramente conquistada ao longo dos anos).
É exatamente isso que está a acontecer na Europa em resposta ao êxodo que chega. A União Europeia não foi capaz de dar uma resposta clara e corajosa a este acontecimento. A proposta de repartir o ónus do acolhimento dos imigrantes por todos os países foi contestada por muitos, foram erguidos muros e reintroduzidos os controlos nas fronteiras. Os países vizinhos que não pertencem à União estão a ser financiados para impedir que os refugiados continuem a sua migração. A Grã-Bretanha ameaça sair da assembleia e recebe concessões, apesar da presumível igualdade de todos os Estados-Membros. A verdade é que o nacionalismo e os interesses particulares de cada país continuam a prevalecer e, em situações de emergência, prevalecem geralmente sobre os entendimentos comuns.
As roupas com que a União Europeia se cobre já estão gastas e não são credíveis. Devemos ver que o rei está novamente nu. Porque é que não o fazemos? Não o podemos (ou não queremos) fazer, temendo as consequências que daí devem advir? De facto, compreendê-lo poderia representar a singularidade, a assimetria que nos empurraria inevitável e necessariamente para um ato evolutivo que resultaria no abandono do mundo “confortável” que tomámos até agora e nos entregaria à necessidade da descoberta, da criação de um mundo novo, utilizando a liberdade criativa tão temida pelas massas e suas hierarquias.
Neste ponto, podemos concluir a história de Anderson. O que acontece depois de a criança ter declarado a nudez do rei? Bem, absolutamente nada:
O Imperador estremeceu, pois suspeitava que eles tinham razão. Mas ele pensou: “Esta procissão tem de continuar”. Por isso, caminhava mais orgulhoso do que nunca, enquanto os seus fidalgos erguiam o comboio que não existia.
É improvável que o poder renuncie a si próprio, repense e se modifique, mesmo quando confrontado com falhas óbvias. E encontrará sempre um bando de bajuladores prontos a segui-lo, porque eles são a fonte do seu ser e do seu sustento. A menos que ocorra um acontecimento subversivo, não necessariamente de natureza violenta: mesmo uma consciência diferente e partilhada do é subversiva, desde que se traduza em ação.
Onde é que a Maçonaria se pode situar em tudo isto? Que papel pode desempenhar num quadro tão complexo e deteriorado? Certamente, a primeira tarefa é formar consciências de acordo com a sua perspetiva: uma visão da realidade não afetada por preconceitos, pré-conceitos, cultura dominante, pelos interesses desta ou daquela fação em jogo, de modo a desenhar um quadro que responda tanto quanto possível às necessidades reais da humanidade no seu conjunto. Mas isto não é suficiente. Deve assumir um papel “subversivo”. Ao longo da sua história centenária, creio que a Maçonaria deu o melhor de si não só quando interpretou corretamente a natureza dos problemas, mas quando, graças a essa interpretação correcta, se empenhou na difusão de ideias fortes, orientações capazes de transformar e definir uma época. Para além de potenciais acções contingentes, nas quais cada adepto pode ainda empenhar-se a título pessoal, colaborando com uma das muitas associações existentes, como a assistência aos refugiados, considero que a Maçonaria, enquanto forma-pensamento, pode manifestar-se plenamente na resposta aos desafios epocais que exigem uma mudança de paradigma cultural. Penso no contributo que deu, por exemplo, para a formação e difusão do pensamento iluminista, que deu origem aos países liberais modernos, para a redação da Carta dos Direitos do Homem, para a criação de organizações como a Liga das Nações antes e a ONU depois, para o Risorgimento italiano, etc. Marcos na história da humanidade, que exigiram o empenhamento de gerações de homens.
Mesmo agora estamos perante um desafio geracional, e o melhor recurso de que dispomos para o enfrentar, aquele que a longo prazo pode dar maiores garantias de sucesso, passa pela educação dos jovens, porque são eles os mais aptos a aceitar novas ideias.
O grande cientista Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, dizia que as novas ideias não se impõem porque os cientistas reconhecem unanimemente a sua validade, mas porque as novas gerações as absorvem enquanto crescem.
A Declaração do Milénio das Nações Unidas, ratificada em 2000 por 186 chefes de Estado e de Governo durante a Sessão Extraordinária da Assembleia Geral da ONU, indica os oito principais objectivos a prosseguir, os Objectivos do Milénio; o segundo ponto, depois da redução para metade da pobreza e da fome, é a garantia de uma educação básica universal.
Eis um objetivo digno da Maçonaria: apoiar o desenvolvimento de programas de estudo homogéneos que privilegiem o sentido da convivência, da cooperação e do intercâmbio cultural, a igual dignidade das pessoas, a interação entre os povos, para que as gerações futuras possam crescer sentindo-se envolvidas no conjunto humano mais vasto e não como cidadãos de um único Estado, e possam também reconsiderar as formas de convivência socioeconómica a fim de eliminar os desequilíbrios hoje existentes.
Para que tudo não fique na mera intenção, um primeiro passo importante que poderíamos dar a nível europeu é utilizar uma iniciativa legislativa popular: realizar uma campanha de assinaturas nos países da UE para apoiar um projeto de lei que o Parlamento Europeu terá depois a obrigação de analisar e questionar.
Este projeto de lei poderia ser chamado de “Carta Montebelli”, com a qual não só se promove a uniformização dos programas de estudo para criar bases culturais comuns para as gerações futuras, mas também se prevê um período de frequência obrigatória de escolas de outros países da UE para os estudantes do ensino secundário, a fim de incentivar o crescimento de verdadeiros cidadãos europeus.
Seria apenas um primeiro passo, certamente não definitivo nem conclusivo, mas significativo pelas perspectivas que abriria. Compreendo a enormidade do compromisso, mas o que está em jogo é também extremamente importante, porque pode tornar-se uma fonte importante do futuro de coexistência pacífica e bem-estar generalizado que esperávamos. Um compromisso e um desafio que a Maçonaria não só pode aceitar como também vencer, desde que o queira realmente.
Foi o que eu disse…
B∴ A∴ T∴