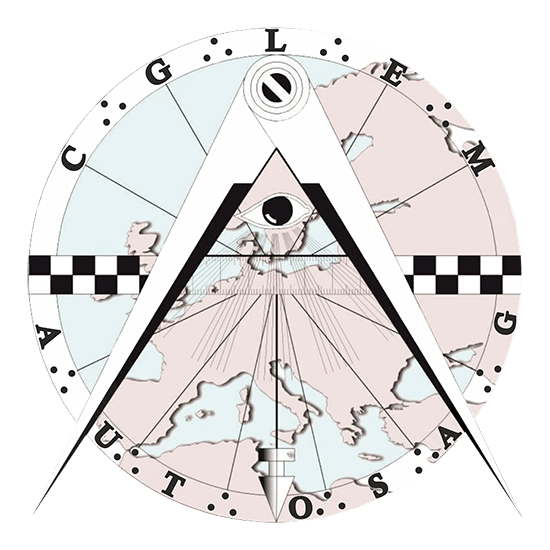Caro leitor na forma adequada de saudação!
Ontem ouvimos três relatos interessantes sobre três caminhos místicos e esotéricos que visam a busca da Verdade, como meio privilegiado para garantir a salvação. Não pretendemos resumir aqui o que ouvimos, nem tentar fazer uma comparação entre eles, mas sim desenvolver de uma forma mais geral uma reflexão sobre as peculiaridades dos caminhos iniciático-religiosos, tentando, sempre que possível, dar conta das semelhanças com o caminho maçónico. E como acreditamos que um dos elementos-chave comuns a todos os caminhos iniciáticos, de qualquer natureza, é o exercício da liberdade individual, este trabalho será fundamentalmente sobre LIBERDADE.
Ora, se perguntássemos qual a ação que, no imaginário coletivo, mais se identifica com a ideia de liberdade, temos quase a certeza de que a resposta seria: viajar. Cabelo ao vento (para os sortudos que o podem fazer), e pronto! O mundo é nosso para o descobrir.
Talvez a nossa abordagem à religião não seja muito diferente daquela que temos quando decidimos fazer uma viagem. Algumas pessoas preferem confiar nos operadores turísticos: eles conhecem o mundo e, por isso, são considerados os mais adequados para conduzir os outros à descoberta do desconhecido. E mesmo que isso signifique que todos os viajantes acabem por repetir as mesmas viagens e ver as mesmas coisas que outros escolheram para eles, isso é um inconveniente menor comparado com o lazer e a garantia do resultado final. De facto, o grau de satisfação é determinado a priori: confie em nós e “viva umas férias de sonho”; “escolha a verdadeira aventura”; “aqui está o passeio romântico que o fará apaixonar-se”; e assim por diante. Queremos tanto que tudo corresponda às expectativas que, por exemplo, os operadores turísticos contratam músicos para poupar os turistas à desilusão de descobrirem que nós, italianos, não temos o hábito de tocar bandolim enquanto comemos esparguete. É isso que a tradição exige, caso contrário alguém poderia começar a pensar que talvez o mundo não seja exatamente aquele que é mostrado nas brochuras turísticas.
No entanto, e felizmente, por vezes surge a dúvida. Se a abordagem inicial pode ser semelhante a uma visita guiada, durante a viagem alguém pode sentir a necessidade de olhar para além das rotas planeadas, para além dos estereótipos estabelecidos e dos bandolinistas de aluguer. Talvez agora queiram ver o mundo com os seus próprios olhos, percorrê-lo com as suas pernas, sem saberem onde a viagem os levará, da alegria e da tristeza que a viagem lhes poderá dar, mas com um grande desejo: conhecer! Conhecer os países e as pessoas para além das montras que os outros lhes apresentam.
Atrevo-me a dizer que as revelações alegadamente guardadas e interpretadas pelas grandes religiões institucionais são muito semelhantes aos pacotes de férias com tudo incluído. Séculos de interpretações e exegeses acabaram por selecionar, embalar, cristalizar em etapas e caminhos pré-determinados o percurso espiritual dos indivíduos. Aproveitaram o anseio pelo divino em padrões planeados, conformaram de alguma forma o sentido de mistério que a existência desperta nas pessoas, dando-lhes uma razão e uma justificação bem definida. “Sigam o programa e encontrarão o que vos prometemos”. Nestes contextos, a revelação é uma imagem completa e definitiva em si mesma, não sujeita a mudanças, interpretações ou adaptações, pelo menos nas suas partes fundamentais, e na sequência de movimentos dos povos que evoluem nos seus costumes, na sua ética e na sua moral, face às questões que o progresso científico e tecnológico levanta, as religiões do Livro opõem-se ao seu carácter monolítico e estático, porque mudar a Lei para se adaptar ao novo é impensável; os homens devem remontar a ela. As raras ocasiões de abertura têm sempre a ver com o aspeto social e com a necessidade de manter um contacto com a parte da população que, por vezes até apesar de si própria, tende a distanciar-se de uma expressão religiosa que já não se sente tão sensível como antes às suas necessidades espirituais. Nestas ocasiões, a misericórdia e a atenção às necessidades da humanidade são, de qualquer modo, baseadas na doutrina, sem uma revisão efectiva do cânone. No entanto, há sempre uma ortodoxia que se opõe a estas tímidas concessões, porque são ainda consideradas um desvio da “pureza” da revelação.
Para aqueles que definimos como caminhos místicos ou religiões esotéricas, a revelação é apenas um ponto de partida, um momento de contacto entre o humano e o divino que não pretendia ratificar uma relação eterna de sujeição, uma distância intransponível entre a criatura e o criador, mas antes um convite a transpor essa distância, a percorrer um caminho que, através do conhecimento do que foi revelado, pode levar a Deus. Não há regras a seguir nem obrigações a cumprir, mas sim o livre exercício da vontade de investigar pessoal e diretamente o mistério divino, de o reviver, de o interiorizar e de o absorver, para nos tornarmos um só com ele. Nesta perspetiva, a salvação não depende da observância da Lei, mas do conhecimento da lógica que a estabeleceu; não da obediência cega, mas da partilha da mesma natureza de que emana a Lei; numa palavra, da identificação entre o homem e Deus. Esta abordagem não é contrária à evolução dos costumes ou da moral, aos progressos tecnológicos ou às descobertas científicas, que contribuem para a mudança de valores. porque estes não são um obstáculo ao conhecimento de Deus, nem representam necessariamente a negação da sua vontade.
As religiões institucionais parecem estar ligadas a uma visão estática e a um contexto historicizado do Divino, estando vinculadas a uma aparição do mesmo num determinado momento do tempo que também marca o limite da compreensão. Por outras palavras: do relâmpago que incendeia a árvore aos deuses que governam os ciclos de vida da natureza, do Deus de Moisés à pregação de Cristo, do Selo dos Profetas ao Livro de Mórmon, em todos os tempos e lugares as revelações divinas devem ter sido limitadas ao nível de compreensão disponível para a humanidade naquele momento. Nesta perspetiva, elas devem necessariamente ser consideradas todas verdadeiras, como respondendo ao conhecimento real do divino possuído por aqueles que receberam essas revelações. Mas cada uma delas não foi e não é senão uma manifestação parcial da Verdade e, como tal, está destinada a ser ultrapassada pela maior capacidade de penetração do Mistério Inefável que a humanidade adquiriu e continua a adquirir no seu percurso evolutivo. Assim, mesmo as religiões actuais, que se fizeram guardiãs e guardiãs da ortodoxia, que se julgam detentoras da palavra completa e final, terão de reconhecer a passagem dos dogmas em que se baseiam, porque, se não o fizerem, suspenderão o caminho para a Verdade.
Deus revelou-se (e revela-se) na medida em que somos capazes de o compreender, e a nossa capacidade de o fazer não altera a sua essência, mas permite-nos abandonar gradualmente os seus aspectos exteriores, relacionados com a vida material, tornando-o cada vez mais ontologicamente ligado à nossa própria essência, ao nosso ser, aos nossos sentimentos interiores.
É este o objetivo das vias religiosas esotéricas: voltar ao conhecimento direto, e não em segunda mão, da Verdade, para além das contingências e das manifestações fenomenológicas da nossa existência material, em busca do Princípio que deu origem a tudo e que constitui a sua substância. Eles extraem das revelações não literalmente, mas reconhecendo o seu ensinamento simbólico, transformando o anseio religioso de uma obediência cega num processo dinâmico, num caminho, num percurso de busca que nos faz sentir Deus e a sua Palavra como parte de nós e nós como parte d’Ele, que pensa a criação não como um acontecimento definitivo e resolvido, mas como uma construção contínua da qual os indivíduos são simultaneamente o objeto e o sujeito, os instrumentos e o resultado, o princípio e o fim, o meio e a finalidade: um processo de identificação que nos leva também a nós, maçons, a declarar: nós somos a G.A.O.T.U..
Duas visões opostas da relação do homem com o divino, que implicam duas formas diferentes de viver a realidade: uma assenta fundamentalmente num vínculo de necessidade, em que o homem é um objeto passivo que só pode aceitar o que lhe é dado; a outra inspira-se numa visão de liberdade, em que o homem é o sujeito ativo que pode orientar a sua vontade em busca da sua dimensão espiritual.
Por isso, a capacidade de empreender caminhos esotéricos de conhecimento depende do exercício da liberdade individual. Comecemos então uma viagem, também, por esta dupla leitura da realidade, para podermos argumentar o sentido de tal afirmação.
Considerando a existência e os actos dos indivíduos no plano material, será que podemos falar de liberdade? Como pode ser definida e exercida?
Este é um tema muito debatido em filosofia: há quem negue o exercício efetivo da liberdade individual, como Spinoza, enquanto outros consideram a liberdade como uma condição inerente à natureza humana, como Descartes. Quem nega a possibilidade de um verdadeiro exercício de liberdade refere-se, em primeiro lugar, à dependência da própria vida das leis da natureza, pelas exigências da nossa parte física. Estamos ligados ao nosso corpo e o instinto exige-nos a satisfação das suas necessidades. Mas a humanidade conseguiu libertar-se dos caprichos da natureza e, hoje em dia, as necessidades básicas relacionadas com a mera sobrevivência já não são (pelo menos para muitas pessoas) o único fator determinante das suas acções. Assim, o ser humano pode efetivamente dedicar-se à satisfação dos seus desejos, cultivar as suas paixões e exprimir toda a criatividade de que é capaz e, seguindo a inspiração da sua vontade, orientá-la para o que lhe dá mais alegria e prazer. Será este um exercício efetivo da liberdade? Schopenhauer costumava dizer: “Um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer”, porque o objeto do seu desejo não nasce de uma livre determinação da vontade, é antes esta última que é determinada pelo próprio desejo, tornando-se viciada nele. No entanto, mesmo os estímulos que nos afectam podem ser controlados e até expulsos das nossas vidas.
Então, somos livres nas nossas determinações ou estamos presos, forçados pela nossa própria natureza?
Alargando a perspetiva a toda a criação, a questão pode ser colocada da seguinte forma: será que o mundo, tal como o conhecemos, é o resultado de leis rigorosas que determinaram o seu desenvolvimento passado e regem o seu desenvolvimento futuro, sem que seja possível interferir em nenhuma delas? Ou será o mundo o resultado da livre interação dos seus componentes, que determinou um dos seus possíveis desenvolvimentos sem influenciar também os futuros?
É aqui que a ciência vem em nosso auxílio. Segundo Einstein, o universo move-se segundo uma necessidade física precisa: “Deus não joga aos dados com o universo”, dizia ele. Para os físicos quânticos, o universo não tem uma estrutura determinística, mas responde a princípios probabilísticos que só existem em relação aos observadores. “Einstein, não digas a Deus o que fazer”, dizia Niels Bhor. Até a própria estrutura da matéria, a coisa “mais real” que podemos avaliar, parece sofrer dessa dualidade e dessas contradições que assolam a esfera da ação humana.
No domínio social e político, a liberdade é a condição considerada necessária para permitir a expressão das personalidades individuais, com o objetivo declarado de assegurar aos cidadãos a prossecução do seu bem-estar físico, económico e moral. Mas como concedê-lo? Dando sempre prioridade aos interesses do indivíduo ou aos da comunidade no seu conjunto? Consoante os tempos, os lugares e as circunstâncias, o ideal de liberdade política e social conheceu várias encarnações, surgindo ora como conquista, ora como compromisso ou negociação, ora como concessão, tendo como elemento-chave uma das duas prioridades acima referidas. De um modo geral, os grupos sociais mais organizados e influentes fazem prevalecer o seu ponto de vista, com o objetivo principal de salvaguardar os seus interesses mais do que a realização de um modelo ideal de liberdade. Assim, a liberdade, mesmo nesta perspetiva, longe de ser uma referência única, é antes um conceito flexível, sempre suscetível de revisão, por vezes utilizado como justificação para verdadeiras atrocidades contra os grupos sociais mais fracos.
Para as religiões institucionais, já vimos como a Lei, e a exegese dela extraída, representam o guia e, conjuntamente, o limite dentro do qual toda a ação humana deve ser exercida.
Neste sentido, vale a pena referir que as religiões abraâmicas, baseadas na omnisciência e omnipotência de Deus, que em si mesmo é apenas bem e perfeição, atribuem à humanidade todas as formas de mal e imperfeição no mundo, uma vez que estas não podem de forma alguma derivar de Deus.
Depois, para além de encontrar uma razão para a dor e o mal produzidos pela natureza, tais como os cataclismos ou as doenças, mesmo que nos detenhamos na faculdade peculiar do homem, a saber, a liberdade, de escolher entre operar para o bem ou optar pelo mal, há que distinguir entre o mal praticado por ignorância, para o qual não se deve falar de uma culpa voluntária, e o mal praticado com intencionalidade.
Mas porque é que o homem, criatura amada de Deus, feita à Sua imagem e semelhança, há-de desejar o mal?
Perante estas questões, as posições tomadas como explicação são basicamente três: a atitude niilista daqueles que, perante as contradições da vida, com as suas tragédias, com os abusos dos mais fortes sobre os mais fracos, rejeitam a própria ideia de Deus porque num tal mundo não há forma de reconhecer a sua ação. Depois, há a atitude fatalista de quem, pelo contrário, vê a ação de Deus em tudo, já que o plano de Deus é tão inescrutável que se torna inútil perguntar as razões das tragédias ou das alegrias da vida: devemos apenas aceitá-las, é tudo, e voltar para as Suas mãos. Por fim, a atitude racionalista, que tende a explicar a dor que invade a vida como resultado do comportamento do homem mau, no caso do mal voluntário, ou como preparação para um bem maior, no caso do mal inocente (a dor visa a salvação).
Em última análise, querendo de qualquer modo ignorar as atitudes intelectuais tomadas como de justificação da teodiceia, isto é, o problema da presença do mal na Criação, resta desatar o nó ligado ao modo como o homem pode de qualquer modo redimir-se face a Deus.
Para além das particularidades de cada uma das religiões, há uma contradição básica que diz respeito a todas elas, ou seja, a prevalência ora dada à ação da Graça Divina, para a qual o perdão e a salvação são uma concessão divina exclusiva, ora dada à ação das obras de misericórdia humanas, que dependem antes da vontade de redenção do indivíduo.
Qual é a origem da salvação? Por uma necessidade divina, ou pela ação da Graça, ou por um exercício da liberdade humana, ou pela consistência das obras?
Apenas mais e mais contradições, antinomias, visões alternativas, conflitos. Mas é precisamente isso que caracteriza o mundo exotérico ou, para usar um termo mais familiar para nós, o mundo da profanação.
Profanamente falando, não há argumentos que levem a preferir uma tese a outra: nesta perspetiva, todas podem ser consideradas verdadeiras, e a prevalência de uma ou de outra é uma questão de fé, de pensamento, de crença científica, de cultura, não sendo possível discernir um meta-critério com base no qual comparar e fazer escolhas únicas. Tese e antítese são equivalentes.
Em última análise, escolher entre pontos de vista opostos é uma questão de oportunidade ou de conveniência, porque é isso que, em última análise, move o indivíduo no contexto profano: a prossecução de um interesse, seja ele de que natureza for e para que fim for. Com base neste objetivo, os indivíduos são naturalmente inclinados a querer livrar-se das muitas contradições que afectam a esfera da sua ação, fazendo sempre uma escolha, a ser defendida então por todos e contra todos aqueles que fazem escolhas diferentes.
Neste sentido, cada indivíduo exerce e exprime a sua própria liberdade: seguindo os impulsos do seu ego, dos seus sentimentos, das convicções que decorrem da sua história pessoal e que o levam a escolher uma das possibilidades dadas, confinando-o a uma visão parcial da realidade.
A perspetiva esotérica e iniciática não renega a existência de antinomias e contradições mas, em vez de as considerar alternativas irreconciliáveis, dentro das quais a escolha e a vontade de impor uma visão sobre as outras é considerada a expressão máxima da liberdade, considera-as um substrato único, inseparável e indivisível, um “unicum” que deve ser aceite na sua totalidade porque é na totalidade do acontecimento que se pode apreender o sentido da vida e a partir do qual se pode iniciar um caminho diferente de liberdade.
Partir da aceitação da lógica do mundo, significa não renunciar a nenhum dos seus aspectos, considerando-os todos essenciais para traçar a origem de onde surgiram. Significa reconhecer que o mundo nasce com contradições inerentes, e que todas elas contribuem para a unidade da Criação e para a Verdade da mesma.
Já se disse que, no contexto profano, a liberdade consiste em escolher entre opostos e em fazer da escolha a sua própria verdade. Em vez disso, acreditamos que a liberdade consiste em mantê-las em relação umas com as outras e não em ter de escolher, porque, como disse Raimond Panikkar, um grande explorador da espiritualidade, “em cada escolha há uma renúncia”, há uma rendição a priori à compreensão da Verdade na sua totalidade.
Rendição ao mundo: é a condição a adquirir para aderir plenamente a uma via de conhecimento místico e iniciático. Render-se ao mundo não significa renunciar ou abandonar a busca da Verdade, mas, pelo contrário, significa que, para tornar consistente essa busca, devemos deixar de lutar contra o mundo, de nos considerarmos o centro da Criação, de impor o nosso ego, de procurar a satisfação dos nossos desejos, com o objetivo de estar ao serviço de um ideal superior que transcende o nosso Ego.
Negar a personalidade profana para recuperar a personalidade divina, tornar-se surdo ao barulho do mundo para sintonizar o seu ser com a chamada da Origem, o princípio que nos molda e que nos chama à sua presença. É aí que se encontra a expressão máxima da liberdade: não nos sentirmos presos ao mundo para voltarmos todo o nosso sentimento para o conhecimento de Deus.
A liberdade está no caminho do conhecimento que conduz à Verdade, no processo de adesão do homem à mesma fonte da Verdade. Neste sentido, a liberdade não atinge os seus limites, porque não se desenvolve horizontalmente, competindo com os outros, mas cresce verticalmente, em direção à dimensão ilimitada da espiritualidade. É neste contexto que se inserem as vias esotérico-religiosas, objeto do encontro de ontem. Mas representa também o substrato em que se desenvolve o caminho ascendente da maçonaria escocesa, caminho que prevê, de facto, no último dos seus graus simbólicos, a conquista da Gnose como prémio sublime.
Evidentemente, a Maçonaria não estabelece um objetivo soteriológico puro como as religiões, mas exige que a regeneração, o renascimento do adepto, seja transformado em benefício da humanidade. A escada, uma vez subida, deve ser descida de volta. Gostaria de sublinhar que o plano exotérico e o plano esotérico representam dois contextos distintos, com objectivos e métodos diferentes: não é, portanto, possível enfrentar os problemas e as contradições da vida com a mesma mentalidade, com a mesma referência cultural, com as mesmas crenças. Ou adoptamos uma perspetiva profana, ou adoptamos uma perspetiva iniciática.
Por isso, não devemos introduzir no templo, durante os nossos trabalhos, chaves de interpretação da realidade que pertencem ao mundo profano. O nosso modo de ler o mundo tem necessariamente de ser diferente.
A liberdade resultante de um caminho iniciático não é, portanto, simplesmente o ato de nos libertarmos da necessidade da natureza, ligada à nossa física, ou do poder de perseguir os nossos desejos, ligados à nossa alma e à nossa personalidade. A sua origem é outra, nomeadamente a consciência individual. A consciência é o substrato de onde se extrai a força e a inspiração, é o guia capaz de orientar a vontade, é a caixa de ressonância dentro da qual se ouve o eco do “Fiat Lux”, é o espelho que reflecte a nossa centelha divina. A consciência individual é a reverberação, ao nível da matéria, da plenitude do Pleroma e, como tal, actua como uma representação direta, sem outra mediação, da Origem do manifesto.
Mas a sua voz foi rapidamente soterrada pela tergiversação do ego e da personalidade, que o contexto social e cultural de pertença ajuda a construir e que, por isso, muitas vezes não é ouvido. E, no entanto, a consciência é o que nos torna todos irmãos, porque, uma vez purificada das superestruturas da profanação, do condicionamento dos preconceitos, ela recorre ao Princípio emanativo comum do Ser e faz-nos ver o mundo com novos olhos.
É este o sentido do silêncio do aprendiz: fazer do seu espírito um espaço em branco, para silenciar o pensamento, e recriar em si próprio as condições para encontrar a fonte da consciência. É este o sentido de sobrepor as ferramentas do trabalho maçónico, o esquadro e o compasso, sobre a luz da loja, ou seja, sobre o livro sagrado, símbolo da G.A.O.T.U. e verdadeira fonte de consciência, para que molde o nosso trabalho.
Quem olhar com os olhos da consciência verá no outro um reflexo de si próprio, e o que verá será a plenitude divina que molda todas as consciências conscientes. O divino está dentro de nós, não está fora de nós, não é diferente de nós, antes nos permeia, nos completa, nos define. Podemos conhecer Deus, é esta a mensagem das religiões esotéricas.
Não a fé, não as obras, mas sim o Conhecimento, como caminho privilegiado para a nossa própria salvação. Daí a relação ontológica, noética, direta, pessoal e íntima com o Divino, que conduz à nossa identificação n’Ele, “de modo a que nada reste de nós que não esteja n’Ele e nada reste d’Ele que não esteja em nós”, como diz uma oração gnóstica. Podemos então compreender como, nesta perspetiva, não há lugar para um Deus personificado que olha de fora para a obra dos homens, um Deus juiz que castiga e recompensa, que cumpre ou não as orações e as súplicas, que concede ou não a sua Graça e a sua salvação em função de um desígnio oculto que não podemos compreender. Numa total inversão de perspetiva, em relação às religiões institucionais, Deus é indiferença, porque não é Deus que cuida dos indivíduos, mas os indivíduos que cuidam d’Ele, tendo de reproduzir a Sua lógica e a Sua essência através de si próprios e dentro de si próprios.
Não creio que possa haver uma expressão de liberdade mais elevada do que esta: a liberdade de nos revelarmos como divinos. Eu sou o G.A.O.T.U.
Quem pensa que isso pode ser realizado com a autoridade de fazer prodígios e milagres, de dar rédea solta a todos os caprichos que lhe vão na cabeça, não entendeu bem o que tentámos explicar. Um caminho iniciático esotérico exige o abandono da visão peculiar da profanação, pede para se despir de todas as tensões que perturbam o ego e a mente, para negar os elementos da personalidade e do ego, para colocar a consciência no estado de harmonia original com o Princípio Criador do universo, para se identificar com a lógica que rege e sustenta o próprio universo.
Libertos das paixões mundanas, seremos livres para explorar a sua complexidade, para investigar o mistério que está na sua origem, num processo que visa não só o conhecimento puro, mas também a reprodução da Verdade que o forma. A identificação com o divino exprime-se na capacidade não só de compreender, mas também de reproduzir a Verdade para além do verdadeiro que caracteriza a profanação.
Já dissemos que o caminho maçónico escocês exige que a Gnose alcançada pelo adepto seja aplicada em benefício da humanidade. Como é que podemos tornar isto possível?
Penso que a melhor maneira seria esta: não viver dentro do tempo, dentro da sociedade, dentro da família, dentro do trabalho, mas sim viver o tempo, a sociedade, a família, o trabalho.
No sentido de que não devemos operar apenas dentro dos nossos contextos habituais, como se fôssemos actores de fundo, figurantes, mas devemos, pelo contrário, agir sobre eles, agir para promover relações que tendam para a direção da Verdade, tal como estamos a aprender a conhecê-la, não com o objetivo de ter mais, não pensando apenas em nós próprios, nos nossos interesses pessoais, mas repensando-nos, conseguindo, mesmo em contextos tão profanos, a nossa identificação com uma dimensão superior que molda a nossa diferente capacidade de avaliar e agir.
Mesmo nesta perspetiva, há que compreender como a escolha de percorrer e implementar um caminho iniciático requer uma forte força de vontade e a capacidade de repensar totalmente a nossa relação com a Verdade. Serão estas razões suficientes para justificar a escassez de indivíduos que decidem praticá-la?
E o que dizer da grande hostilidade que normalmente rodeia qualquer agregação de homens que se identifique com um destes caminhos? Talvez uma das análises mais perspicazes a este respeito possa ser encontrada numa das mais belas páginas da literatura mundial: “A Lenda do Grande Inquisidor”, retirada de “Os Irmãos Karamazov”, de Fedor Dostoiévski.
Estamos em Espanha, no ano de 1500, quando a Santa Inquisição zelava pelo respeito da ortodoxia, não hesitando em mandar para a fogueira quem fosse suspeito de heresia. Neste ambiente de ansiedade e suspeita, Cristo regressa à terra e é reconhecido e aclamado pelas multidões, mas o cardeal grande inquisidor manda prendê-lo imediatamente e arrastá-lo para as masmorras da inquisição, onde vai pessoalmente interrogar o prisioneiro nessa mesma noite.
O inquisidor é um homem de noventa anos, “alto e direito, com um rosto magro e olhos encovados, nos quais ainda há, como uma centelha de fogo, alguma luz”. Pergunta a Cristo porque regressou, porque quer lançar o povo no caos com a sua mensagem de liberdade. Evidentemente, não compreendeu que o povo é movido por uma única questão: “a quem se curvar?” e que este “é o maior segredo deste mundo”. O cardeal censura o prisioneiro por não ter compreendido e por se ter comportado de forma totalmente contrária. “Em vez de se apoderar da liberdade humana, multiplicou-a, exacerbando eternamente, com o tormento da liberdade, o reino espiritual do homem”, mas “nunca nada foi mais intolerável para o homem e para a sociedade do que a liberdade”. Os homens, continua o grande inquisidor, não podem esperar para se livrarem da liberdade em troca de um poder forte que lhes garanta a felicidade que só os bens materiais podem garantir. E a Cristo, foi-lhe proposto que guiasse os homens com os mesmos meios, quando Satanás o abordou, mas ele decidiu resistir-lhe e recusou as suas ofertas de poder. O inquisidor e os seus homens não tinham cometido o mesmo erro e, desde há muito tempo, tinham optado por guiar os homens dando-lhes felicidade em troca de obediência: “Por isso, ouve-nos, não estamos contigo” – diz ele a Cristo – “mas com ele há oito séculos”. O inquisidor conclui dizendo ao prisioneiro que não o teme e que, no dia seguinte, como prova do que disse, verá como o manso rebanho de gente, ao seu primeiro gesto, “se apressará a acender o fogo ardente sob a estaca, na qual o queimará porque veio perturbá-los”. Cristo não responde, apenas beija o inquisidor nos seus lábios ensanguentados. O velho estremece, treme. Vai até à porta e, voltando-se para Cristo, diz-lhe: “Vai-te embora e não voltes, nunca mais voltes”.
Este é, sem dúvida, um quadro inquietante que Dostoiévski nos apresenta, mas não deve ser confinado apenas ao círculo da religião católica representado pelo grande inquisidor. Penso que a crítica que ele faz pode e deve ser alargada a todas as formas de ideologia organizada, tanto do tipo religioso como do social e político. De facto, é típico de qualquer ideologia declarar não só que o seu objetivo é tornar os homens felizes, mas também que a sua própria forma de ler os dados da vida e, consequentemente, o caminho que daí deriva, é o melhor e mais adequado para atingir esse objetivo. Mas, segundo o nosso autor, o que as ideologias realmente fazem é substituir-se implicitamente à ordem cósmica estabelecida por Deus, deixando-se seduzir pelas forças demoníacas que, mascarando-se de intenções nobres e altruístas.
As ideologias decidem pelos homens e querem impor-se aos homens. E conseguem-no porque os homens, em vez da verdade e da liberdade, são atraídos mais pelas promessas de estabilidade e de bem-estar, pelo brilho dos ídolos que o demiurgo do momento lhes faz passar diante dos olhos, que os homens adoram seguir aqueles que lhes prometem alegrias e prazeres. Dostoiévski dá-nos a imagem de uma humanidade que não só é incapaz de reconhecer o verdadeiro bem, como também está disposta a negá-lo, desde que não tenha de assumir o esforço e o ónus de exercer a liberdade de escolha.
Mas não é isso que o Cristo da história, com o seu silêncio, atesta mais uma vez com a sua mensagem de liberdade. Ele é portador de um exemplo. Ele não quer impor-se a si próprio e à sua lei, mas deixou os homens livres para o seguirem, porque só na liberdade podemos encontrar a Verdade. Aquele que não se impõe, que não precisa de convencer e que não tem de conquistar os outros à sua vontade, ama e aceita o mundo tal como ele é, que se entrega ao mundo, para fazer dele a base do seu renascimento através da descoberta do valor da liberdade.
Esta é a mensagem de que cada caminho de iniciação é portador.
Há uma passagem no final do capítulo em que o narrador, Ivan Karamazov, constata com amargura que o engano para com o povo é feito em nome d’Aquele que é traído, mas que tudo isso deve permanecer em segredo, para proteger os homens infelizes e estúpidos, para os tornar felizes. E depois acrescenta: “Imagino que até os maçons têm princípios entre eles, algo que é análogo a este mistério e que os católicos odeiam tanto os maçons porque vêem neles os concorrentes que quebram a unidade da ideia, enquanto únicos devem ser o rebanho e o pastor”. Esta visão da maçonaria surgiu evidentemente em Dostoiévski porque ele estava convencido de que ela actuava como um instrumento de poder destinado a submeter as massas à sua vontade e, deste modo, a colocar-se em concorrência com as outras instituições que prosseguiam objectivos semelhantes.
Este é o risco que os associados iniciados correm perante os profanos. Uma vez que actuam de forma reservada, supõe-se que prosseguem objectivos que não podem ser declarados, ou que gerem o poder. Esta é também a consequência lógica que enfrentamos quando, de facto, esperamos da maçonaria uma instituição que possa agir diretamente no mundo tal como ele é, e não através do aperfeiçoamento dos seus iniciados, que depois reflectem a sua nova disposição na sociedade.
Cada viagem tem a sua conclusão, mas mesmo depois de ter regressado a casa, continuará a mostrar os seus efeitos, revivendo nas histórias, actuando sobre as recordações e as sensações, e pouco a pouco a realidade e a imaginação misturam-se para formar uma história ideal do que foi. No fundo do nosso espírito, uma viagem nunca acaba, estará destinada a terminar com a morte?
As religiões institucionalizadas fazem uma divisão clara entre a vida e a morte, entre um antes e um depois. A sua soteriologia, como vimos, pode basear-se na prevalência da graça ou na das obras, mas em todos os casos o que é criado, feito ou recebido na vida terrena tem um significado em função da vida após a morte.
No entanto, mesmo em relação à morte, há visões contrastantes nas escrituras: nalguns livros da Bíblia, ela é considerada como desejada por Deus e prevista desde a criação, sendo este também o tema predominante do judaísmo; noutros, a morte é uma consequência do pecado do homem e, portanto, não desejada por Deus, sendo este o conceito do cristianismo. Desejada ou indesejada por Deus, amiga ou inimiga, a morte marca sempre uma fratura a ultrapassar, um momento de julgamento cujo resultado positivo ou negativo dependerá do que, durante a nossa vida, tivermos completado do ensinamento das religiões.
No contexto da iniciação, a morte não é considerada a consequência do pecado do homem. É parte integrante da lógica da criação, presente muito antes do aparecimento do homem. Aceitar este dado significa mais uma vez “entregar-se ao mundo”, e fazer dele a base de uma expressão mais ampla de liberdade, aquela pela qual não se está preso a nada, nem à vida nem à morte, porque se está igualmente presente numa e noutra.
O que é a vida e o que é a morte depende de nós, do sentido que lhe damos e então podemos pensar na morte não como uma divisão, uma separação, mas como uma continuação sob uma forma diferente, porque uma vez que tenhamos tomado consciência dessa parte de nós que definiu o Eu ou a consciência ou o espírito através do qual ressoámos com a fonte do Divino, então essa parte de nós viverá num eterno presente, sem um antes e sem um depois.
A vida não é uma afirmação, tal como a morte não é uma negação. Mais uma vez, a verdade não está apenas numa das duas proposições opostas. A verdade constrói-se como uma ligação, como uma relação entre dois opostos, não consiste em aceitar um e excluir o outro. Como ligação, a verdade não é um dado apriorístico, exterior a nós, mas constrói-se vivendo todos os aspectos que lhe estão ligados, é o resultado do nosso trabalho de investigação, é elaborada dentro de nós e vive e cresce dentro de nós. Não há vida por um lado e morte por outro: há apenas um processo integral cuja expressão completa consiste na finitude da carne, mas na completude do espírito e na unidade do Pleroma, que tudo engloba.
No momento da morte, compreendemos o que somos para já não sermos: para já não sermos, no caso dos que acreditam que com ela tudo acaba; para começarmos a ser, no caso dos que acreditam que com ela tudo começa.
EPÍLOGO:
A vida é uma sucessão de alegrias e de dores, de esperanças e de desilusões, e na sua evolução conduz-nos ao momento da pergunta fatídica: o que é que fica no fim? A vida engana-nos, ou melhor, somos nós que a enganamos, porque não a queremos entender, compreender, interpretar corretamente?
O que dissemos sobre a escatologia da via do iniciado representa uma dimensão real ou antes uma das muitas elaborações mentais do homem, para dar conta do mistério inexorável do ser e fugir à realidade amarga da vida?
A cada um de nós, Irmãos, o ónus e a liberdade de dar uma resposta.
Pela minha parte, concluo com uma última consideração.
Examinámos e pusemos em evidência o contraste entre o mundo profano, por um lado, onde prevalece o estado de necessidade e uma forma relativa de liberdade, e o mundo exotérico-iniciado, por outro, caracterizado por uma liberdade que transcende o terreno para se dedicar ao conhecimento da sua identidade divina.
Mas esta justaposição é em si mesma artificial e ditada pela necessidade de descrever, pela dificuldade da mente em enunciar, de forma unitária, o que aparece fragmentado, porque mesmo um iniciado (e sobretudo um maçon) não pode nem deve isolar-se do mundo, não pode criar uma distinção marcada na sua vida entre os dois contextos. Há antes uma mistura contínua entre uma e outra, por muito que tentemos aderir completamente à visão do iniciado, ninguém pode negar as necessidades do corpo e da personalidade: a nossa pode ser chamada uma tendência para a perfeição do iniciado, como uma tensão contínua para a luz, da qual podemos captar os clarões, ter o sentimento, viver os seus instantes. Mas só para os poucos eleitos podemos ver a conclusão da identificação, homem-divino de que falámos, eleito por nós, celebrado como os mestres de todas as épocas e uma confissão de que alcançaram o Segredo Real.
Poderíamos então dizer que no nosso caminho estamos a tecer a urdidura da liberdade dentro da trama da necessidade. O tecido que daí sairá será caracterizado por uma ou outra, conforme o iniciado seja capaz de dar consistência à sua trama em vez de sofrer a urdidura da profanação.
Talvez as palavras que Pico della Mirandola, um dos principais proponentes do renascimento do pensamento exotérico na nossa cultura, faz Deus dizer, para definir a natureza humana e que ainda nos podem guiar:
“… Não te fiz nem celeste nem terrestre, nem mortal nem imortal, porque de ti mesmo, arquiteto quase livre e soberano, te formaste na forma que quiseste escolher. Podes deteriorar-te nas coisas inferiores que são os brutos; podes, segundo a tua vontade, regenerar-te nos reinos superiores que são os divinos…”
Assim disse Eu…
B∴ A∴ T∴